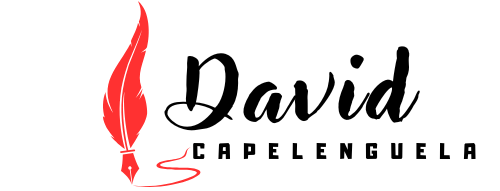1.
Como os poetas escrevem é um mito já velho dos intelectuais que não escrevem como os poetas escrevem. De forma geral, o que sobre isso dizemos é um misto confuso de reminiscências poetizantes, de teorias estonteantes à procura de provas palpáveis e, sobretudo, uma transposição anacrónica, a transposição das sugestões de leitura dos poemas para o imaginado instante da criação verbal.
Uma das sugestões de leitura mais persistentes nos comentários ocasionais é a do binómio forçado/natural. E, sintomaticamente, essa referência rareia nas recensões, nos ensaios “sérios” às respectivas obras. Para o caso, não vale a pena recordarmos toda a já pesada herança intelectual que estas duas palavras nos evocam, seja em que parte do mundo for onde haja livros e, não só, também comportamentos.

Forçado, para o caso, diz respeito à sensação de que o poeta, no instante da criação verbal, se forçou a fazer coincidir o seu escrito com um modelo ou anagrama prévio. Fê-lo de maneira que, não propriamente figura (dá corpo a) o modelo, mas apenas obedece à normativa artificiosa que o instaura sem nos convencer de nada. Fica-nos uma gravura de sentidos reduzidos para o “rasgar frenético da aventura mímica”… a aventura perceptiva limita-se então ao prazer escasso de vermos repetir-se o previsto mesmo quando não resulta. É isto que gera o cliché. Foi também isto que esgotou a poesia interventiva entre nós, quer a de sinal marxista, quer a negritudinista.
2.
O poeta que assim trabalha força a nossa expectativa a orientar-se no sentido previsto pela grelha de receitas adoptada. Se lhe sugeríssemos alguma mudança, para nós adequada à expectativa que ele nos criara com outra parte do poema, o poeta forçado rejeitaria liminarmente essa mudança. Caso lhe venha a ocorrer qualquer outro procedimento, mesmo sem ninguém lhe sugerir algo, mesmo de soslaio ou de kaxexe, ele também rejeitará.
Num mundo como este, em que as mudanças, trocas e fluxos culturais aceleram rapidamente, muitos de nós sentem-se instáveis e inseguros. Estávamos habituados ao que éramos para os outros, à imagem que nos outros construíamos, imprimindo-lhes repetidamente a marca de certos pensamentos, sentimentos, recordações e ambições. A nossa identidade passava por sermos aquele que era imaginado assim, e assim queria dizer algo fixo: socialista, marxista, comunista, democrata, capitalista, etc., fosse o que fosse desde que não mudasse de ideias. Caso mudássemos de ideias isso era visto por todos como traição. Por este hábito identitário nos sentíamos estáveis e a salvação residia no imutável das nossas frases – o que é desastroso para seres criativos. Daí que surjam poetas e, sobretudo, “críticos” acríticos que gostariam de reduzir a instabilidade a uma ideologia, a uma tradição (ideologizada), ao catecismo x ou y. Se a realidade quotidiana e a intuição profunda se coligam para contradizer as grelhas de salvação, mostrando-nos que a vida e a poesia estão imersas em vasos comunicantes e irrepetíveis, o poeta forçado e o crítico papagaio rejeitam liminarmente: “nem pensar”. Antes diziam: vade retro satanás.
Pelo contrário, quando lemos um poema que nos parece natural, não temos a impressão de que a nossa expectativa seja coarctada, reduzida a um paradigma consabido, enfim, que se limite à mera repetição de escolhas anteriores. O poema natural mantém-nos numa tensão expectante, porque sabemos a cada momento que ele pode mudar, não podemos ter a certeza de como acaba. No entanto, quando chegamos ao fim, temos a sensação de que tudo está conforme, apesar das oscilações e, aliás, vibrando com elas. Supomos que esta mesma impressão de instabilidade e completude, esta mesma e densa expectativa harmónica, o poeta foi fiel a ela quando compôs – e por isso dizemos que ele não forçou nada. Tudo se combina inesperadamente certo, numa homogeneidade perturbadora porque, apesar de soar homogénea, se mantém incompleta e nos dá a sensação de completude.
3.
Até aqui falei de poemas. Podia ter falado em livros de poemas que ia dar no mesmo. Tinha em mente poemas acabados de poetas maduros. O poeta, enquanto não encontra voz(es) própria(s), tacteia, apalpa, experimenta, segue modelos diversos, às vezes parece-nos forçado, outras frouxo, outras ainda hesitante, misturando imagens felizes com autênticos desastres estéticos. Ou então segue logo e só um caminho conduzindo-se a uma poética estrita, forçada, ou seja, a um suicídio poético.
Houve, de memória certa e registada, poetas extraordinários, que desde muito cedo perceberam e seguiram voz própria, em geral arrojada face ao meio. Não é, como também sabemos, o mais comum – apesar de se ter tornado esse paradigma num vício da preguiça mental.
Como o de um poeta natural se nos afigura o percurso, ao mesmo tempo humilde e ambicioso, de Capelenguela. Humilde porque sinceramente vai tacteando, explorando lições dos confrades e mais-velhos, muito raramente mesmo forçando alguma solução, com timidez, a meio de um verso, aqui ou ali escorregando nos limos, outras vezes se elevando quase à altura do sol com os pés bem assentes na terra, que é como o sol se sente mais forte.
Conheço bem três livros dele: Vozes ambíguas: na dialética do corrimão (Capelenguela, Vozes ambíguas, 2004), Gravuras d’outro sentido (Capelenguela, Gravuras d’outro sentido, 2012) e Tipo-grafia lavrada (Capelenguela, Tipo-grafia lavrada, 2012).
Esses livros me sugerem uma imagem da evolução do poeta para uma voz cada vez mais sua, segura de si. Uma voz que, tal como a de todos nós, se fez ouvindo as outras, adoptando procedimentos-truques colhidos em lavras afins, muitas, por exemplo a de Ruy Duarte de Carvalho, a de Paula Tavares, a de Lopito Feijóo e as de tradições orais sulanas. Aliás é, hoje, do seu grupo geracional, o poeta mais próximo dessas tradições. Acompanhando-as, a palpável atenção ao concreto da palavra, ao étimo, à experiência visual, ao fragmento graficamente marcado (Capelenguela, Gravuras d’outro sentido, 2012, pp. 36-37), como se o poema fosse também uma gravura do Tchitundu-hulu.
Na verdade, se atentarmos a todas as tradições que já pulsaram sobre a terra angolana, que deixaram por aqui seus sinais de morte e vida, facilmente percebemos que não se chocam os procedimentos característicos de algumas vanguardas com os das tradições pré- e para-coloniais. É o caso da poesia concreta e visual, atenta ao desenho da palavra, da letra e do poema. Não por acaso, nestes livros, a imagem visual da capa desempenha um papel introdutório muito importante. Particularmente a capa de Gravuras d’outro sentido, na qual figura destacada uma “escritura rupestre” do Tchidundu-hulu (que escrevo assim para facilitar a pronúncia).
A articulação entre as tradições da visualidade e da verbalidade se faz por várias vias nesta poesia. Uma delas é a conjugação com destacadas citações iniciais, oriundas quer da literatura escrita, quer do acervo oral – e sobretudo deste: acervo oral sulano, banto e pré-banto, que várias vezes acumula com vozes ouvidas numa rua das nossas cidades.
Outra via sofre uma fragmentação potencializadora de palavras logo no título, como em Tipo-grafia, no caso conjugando-se ao lavrar, que redesenha a terra articulando necessidade e engenho e é já metáfora antiga para a poesia escrita globalizada. Essa articulação vai gravando Vozes ambíguas, que eu preferia chamar de ambivalentes, ou polivalentes. Poli- ou ambivalentes na medida em que nos sugerem muito mais do que uma das suas definições no dicionário. Vozes poéticas, portanto, potenciadoras de uma constante reconstrução de sentidos e indícios.
A lírica de Capelenguela a que tive acesso passa por esta conjuga- ção e de certo modo supera-a, como a de Paula Tavares, articulando as “belas palavras” em versos-frases de fôlego mais longo e mais íntimo, como sucede com maior incidência na segunda parte das Gravuras d’outro sentido:
Assobiam como o segredo cortez de pássaros
No altar solene e silêncio dos lábios onde namora
Mora uma lenda que de braços dados com a diáspora
Leva traz eleva suavemente um bucolismo
Idêntico ao canto do humbi-humbi
(Capelenguela, Gravuras d’outro sentido, 2012, p. 65)
David Capelenguela, homem do Sul espreitando em Luanda, urbano e rural, atento leitor da poesia nacional e internacional, é de facto uma encruzilhada. Sabemos que as encruzilhadas podem ser perigosas e acrescemos a tal saber a memória dos engarrafamentos. Mas elas são enriquecedoras. É lá que os fotógrafos apanham mais tipos de pessoas e situações; é lá que as zungueiras vendem mais produtos; é lá que as Hiaces embarcam mais clientes e as reportagens de televisão mais pessoas apanham de surpresa. A poesia do nosso autor vai, partindo de uma funda corrente interior, que recebe muitas águas subterrâneas e alguma chuva, vai visitando e absorvendo lições desses cruzamentos numa transumância estética mais apurada conforme avançamos na idade.
Aproxima-se, ao passarmos de livro para livro, aproxima-se mais de uma voz pessoal, íntima, orquestrando símbolos principalmente a partir das tradições orais, actualizando-as, transfigurando-as e abrindo-lhes novas portas – as dos mercados urbanos:
Cantarei a vigília dos relógios
Aposentados no esquecimento
Do percurso cintilante
Das avenidas E cantarei…
(Capelenguela, Gravuras d’outro sentido, 2012, p. 64)
Aquela mumwíla que tem tela cintilante
Fascinando legenda nos lábios
Adornados pela magia do lápis
(Capelenguela, Vozes ambíguas, 2004, p. 27)
O prelúdio contextual da aurora lavrada
(Capelenguela, Vozes ambíguas, 2004, p. 26)
4.
Poeta de encontros e “guardador de assobios” (Capelenguela, Gravuras d’outro sentido, 2012, p. 65), na sua arte e definição poé- ticas ganham particular relevo procedimentos de concordância. De onde relevam semas e metáforas de abraços, de saudade, do amor e do “coito cicatrizante” (Capelenguela, Gravuras d’outro sentido, 2012, p. 28), cósmico (“a noite e o dia são noivos”), da transumância e articulações copulativas (por ex.: orações coordenadas), parturientes dos seres na intersecção do seu copular (Capelenguela, Tipografia lavrada, 2012, p. 55).
As imagens visuais que trabalha produzem geralmente metáforas de sabor rural, ligadas às principais cerimónias de tradições sulanas (“modesta Ndaloka, dissipada namorada de missangas / E intimidade cerimonial” (Capelenguela, Gravuras d’outro sentido, 2012, p. 45)), em particular a ritos (poéticos) de passagem:
Esta manhã uma andorinha da África imensa
Veio bater-me a porta e respirar o gesto espontâneo
Da sua alma sobre a virgindade do meu rito de passagem.
(Capelenguela, Gravuras d’outro sentido, 2012, p. 47)
A adjectivação, a introdução de personagens e fugazes vozes da cidade em quadro idílicos do mato nos dão sinais de outra vivência que se incrusta na considerada original, “pétala e galáxia anfitriã da minha vibração” (Capelenguela, Vozes ambíguas, 2004, p. 15). Essa é também a função de grafismos poéticos, recursos evidentemente ligados à tipografia e menos relacionados com as nossas tradições visuais, como o hífen separando palavras, que a oralidade resolveria por jogos de sons também aqui presentes.
De forma geral – e tanto mais quanto mais se avança na idade – os poemas e a poética implícita do autor apontam para uma discursividade lírica, subjectiva, em que os quadros rurais são chamados a representar a intimidade: “aquela mumwíla de olhos fecundos / que falando vai versando” (Capelenguela, Vozes ambíguas, 2004, p. 27). A estrutura típica dessas oraturas, porém, não é a que domina na poesia de Capelenguela. Há uma oratória tradicional, sim, assomando entre fragmentos líricos e apontamentos pessoais inseridos em quadros ou cenários rurais. Mas estruturas como, por exemplo, a do poema «Sob o pano da servidão nocturna / … regras para dan-ça» (Capelenguela, Gravuras d’outro sentido, 2012, pp. 49-50), estruturas típicas do meio e do momento em que a tradição persiste são mais raras.
Nada disso é de admirar ou para desmerecer. Tal como os rios levam entre as suas areias as pedras preciosas, assim a verbalização poética de Capelenguela vai agregando jóias daqui e dali, “da tradução oral / que a transposição celebra” (Capelenguela, Tipo-grafia lavrada, 2012, p. 41). É, portanto, uma poesia de continuidade do chão para o asfalto, do local para o global, de continuidade e de agregação. Fosse ele um poeta forçado e veríamos uma poesia de segregação, com rupturas tão premeditadas que não fariam ninguém levantar-se da cadeira.